Em 2017 fui convidado a ir ao "Rota das Letras - Festival Literário de Macau". Senti-me lisonjeado e não merecedor do convite. Mas agradeço a mão amiga que me foi estendida, porque adorei, e porque fui onde talvez nunca chegasse a ir sem este convite. Dessa presença resultou este texto que agora partilho, escrito também a convite, aliás extensivo a todos os convidados de cada Rota das Letras. Desses textos - contos e outros escritos - a organização publica uma antologia trilingue, que já vai no sexto volume. É um privilégio. E aqui fica o texto publicado.
Ainda há pérolas no Rio?
Macau. Livros. Viagem. Ponto! Há viagens nunca imaginadas,
nunca equacionadas. Afinal, porquê? Há caminhos que acabamos por fazer sem
nunca termos imaginado que os nossos sapatos por eles iriam passar. Agora que
já se sentem os primeiros odores a filosofia barata, o lugar-comum mais
adequado que deveria seguir-se seria dizer que são esses os caminhos que acabam
por mais nos marcar.
Os rios sempre me fascinaram. Depois de ter visto o Estreito
do Bósforo, tendo levado para Istambul a ideia de fixar o momento em que
estaria com um pé na Ásia e outro na Europa – ideia nunca concretizada; depois
de ter visto o Tigre e o Eufrates, e deles comer o peixe, e depois de ver essa
maravilha que é (ou era...) o delta onde se juntam; depois de outros rios,
queria ver o Rio das Pérolas. Sabia que não ia ver pérolas, mas ainda assim
queria ver. Vi as águas turvas revolvidas por sucessivos barcos apressados.
O eterno problema de um visitante é o imaginário construído
e a realidade que nos é dada a ver num curto espaço de tempo, mais curto ainda
quando há agenda para cumprir. Fica desde logo comprometida essa aventura,
sempre com grande potencial encantatório, de nos perdermos nos mercados, nos
recantos, nas conversas, em locais simultaneamente desconhecidos e
desafiadores, onde tudo é simultaneamente velho e novo aos olhos do visitante.
Nunca imaginei visitar Macau. Tão longe. Geralmente fico a
meio caminho, no Médio Oriente. As memórias recentes de Macau são o arrear da
bandeira aquando da transferência de soberania e o célebre caso do “fax de
Macau”. O imaginário de Macau, pelo menos o meu, faz-me recuar cinco séculos. O
tempo, escreve-se, em que se terá afirmado como o primeiro entreposto europeu
na China, sendo depois o último território chinês a deixar de ser colonizado.
Confesso a minha maior atracção por esse tempo do que pelos arranha-céus
envidraçados da actualidade. Macau não tem, aliás, o exclusivo dessa sensação
que tenho sempre em outra qualquer cidade: a de preferir as zonas velhas, os bairros
característicos, as pessoas, a um alegado desenvolvimento arquitectónico e
tecnológico. E tenho preferência por esses tempos e por esses lugares porque
eles são, de facto, diferentes, e é neles e com eles que nos podemos
surpreender e querer ainda saber e conhecer mais.
O imaginário de Macau leva-me para as naus portuguesas que
atravessaram meio mundo e para os navegadores que a fio de espada conquistaram
território; para imensos portos cheios de mercadorias com gente atarefada em
correria, com navios a chegar e a partir; para as ruas estreitas e escuras com
casas de ópio; leva-me aos poemas de Camilo Pessanha, inevitável; leva-me às
ruas e casas tipicamente portuguesas, com nomes portugueses, a onze mil
quilómetros de casa; leva-me a tentar perceber como é que essa imensidão de
poder que é a China teve paciência (e sabedoria?) para que durante séculos
permitisse a presença estrangeira num local tão estratégico; Interrogo-me como
seria essa realidade nos séculos XVI, XVII e por aí fora... Portugal à porta da
China; qual será o cheiro das ruas do ópio? E como seriam as camas dessas casas
de perdição? Como seria o quotidiano que juntava portugueses e nativos? Como
seriam os piratas que navegavam na região? Como comunicavam os nativos com os
europeus? Havia mesmo pérolas? Tantas perguntas para poucos dias de agenda
preenchida.
Gosto da temperatura mesmo com muita humidade e chuva
miudinha. Gosto de sair do Grand Lapa para fumar um cigarro e observar, nas
traseiras, um casal idoso, logo pela manhã, entre o nevoeiro, a fazer aqueles
exercícios tradicionais e indecifráveis aos meus olhos. Registo o taxista que
coloca o taxímetro a zeros depois de perceber que tinha havido um erro de
comunicação e que seguia na direcção errada. Observo os milhares de chineses que
têm como destino os casinos e sinto a certeza de que não vou cruzar-me com eles
a olhar para uma qualquer mesa de jogo à espera da sorte dos dados. Entro nas
lojas de velharias e tento negociar um velho cachimbo de ópio, mas acabo a
comprar uma réplica para turista. Entro num pequeno templo budista e cumpro o
ritual da queima do incenso. Perco-me nas ruas com nomes portugueses, nos
restaurantes portugueses, nas igrejas.
Encontro portugueses de quem tinha
perdido o rasto e reencontro-os a milhares de quilómetros de casa. Não, não é
mentira, Macau não é exemplo, mas há mesmo um português num qualquer ponto do
mundo onde julgamos que isso não é plausível, neste caso um português conhecido
dos tempos de juventude que em Macau decidiu viver. Os portugueses em Macau
sentem necessidade de ouvir e estar com os portugueses que chegam de Portugal.
Essa avidez nota-se na atenção que nos dão, nas perguntas que fazem, na atenção
com que ouvem. A cada conversa fica a ideia de que gostam muito de estar em
Macau, mas sentem a distância como que a roubar-lhes uma outra vida. Não se
pode viver duas vidas.
Dou por mim à procura de Portugal e se calhar devia estar à
procura dos macaenses. Ou devia escrever chineses? Apontam-me, de noite, as luzes
do Casino Lisboa, o velho e o novo. Luzes de ilusão. Registo a noção de espaço
dos chineses. Não os incomoda a excessiva proximidade, nem o roçar de ombros ou
o encosto imprevisto. Senhor do meu espaço pessoal, da minha bolha, estranho no
início, mas acabo por habituar-me rapidamente.
Chego a Macau levado pela mão de um livro que é fruto de
outras viagens. Um livro sobre uma realidade substancialmente diferente.
Pessoas diferentes, realidade económica diametralmente oposta, culturas muito
afastadas, necessidades imediatas singulares, histórias diferentes. Um mundo de
diferenças que formam um puzzle que nunca iremos conseguir terminar mas que nos
tornam donos e conhecedores de uma riqueza não mensurável.
Escrevo, mas não sou um escritor. Gosto de escritores.
Juntar palavras para lhe dar um sentido, depurado e escorreito, honesto, dá
trabalho. Mas dos escritores não quero apenas a escrita, quero o pensamento. Esse
malandro. Quero saber de que matéria-prima saiu aquele livro, aquela crónica ou
aquele conto. Quero sempre conhecer mais sobre o sítio de onde vieram as tais
palavras, juntas – buriladas – e com sentido, que me fascinam.
Já quando vou ao cinema é a mesma coisa. Quero que a tela me
conte uma boa história. Uma boa história, apenas isso, tudo isso. Quero que
alguém me leve pela mão através de uma realidade que me diga alguma coisa. Que
me perdoem os técnicos de luz, de som, de fotografia, o que eu quero mesmo é
uma boa história. Ficção ou realidade, quero uma boa história. Deixo aos
cinéfilos as questões da luz, da escolha dos actores e dos enquadramentos da
acção... Eu quero é uma boa história, que me traga inquietação e que me faça
esquecer alguns ruminantes de pipocas nas cadeiras à volta.
É por tudo isto que acho os escritores muito mais (ou menos)
interessantes quando não estão a falar de livros. Qualquer festival literário
fica a ganhar se arranjar espaço e modo de os escritores não falarem apenas dos
livros ou do jeito que mais gostam de escrever. Não quero saber se escrevem de
manhã ou à noite, se escrevem de pijama ou na esplanada de um café, se bebem
muito café ou aguardente velha, se escrevem sob o efeito de opiáceos, se
escrevem com lapiseira ou lápis de carvão, ou no computador, não quero saber
nada disso. Quero saber o que eles pensam do mundo, da felicidade e do amor,
das guerras e dos políticos, dos governos e das crianças, dos velhos, da vida e
da morte. E da Literatura, por que não? E de tantas outras coisas. Quero que os
escritores me tragam inquietação. Quero que introduzam elementos novos na
permanente equação que tentamos resolver a cada vinte e quatro horas. Quero que
os escritores me alertem para aspectos da vida e do mundo sobre os quais nunca
reflecti.
Não quero jogos com palavras despidas de sentido. Nem quero
páginas de texto que me obriguem constantemente a voltar à primeira linha para
tentar agarrar o sentido da mensagem. Não quero livros que me digam o que
fazer, quero livros que me ajudem a pensar e a decidir com mais conhecimento
para dar passos em frente. Quero ter a capacidade de reflectir e pensar sobre a
diferença entre pescar no Bósforo, no Tigre, no Eufrates ou no Rio das Pérolas.
Assim os escritores me ajudem. E digam-me que ainda há pérolas no Rio. Porque
também quero sonhar.
Pinhal Novo, 13 de Novembro de 2017
josé manuel rosendo

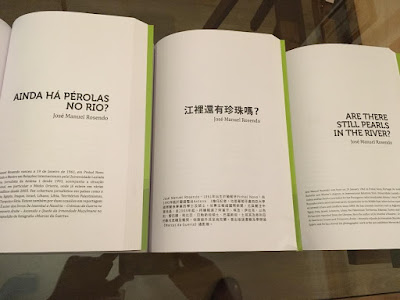
Sem comentários:
Enviar um comentário